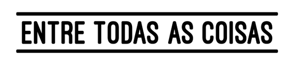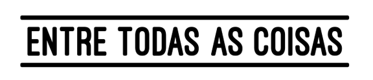Pastel de feira dominical, recheio: palmito. Foi rotina durante anos; vinha naquele saco cor indefinida, de artísticos contornos engordurados por absorver, levemente, o óleo da fritura, o qual, estranhamente, parecia também conferir um sabor extra, algo na linha refrigerante de latinha versus refrigerante de garrafa. Tenho essa referência: meu pai buscava logo pela manhã, quase sempre perto do horário em que eu acordava de vez, pois era normal acordar mais de uma vez aos domingos – aquele primeiro despertar que o tira da cama e o leva para frente da televisão para fazer parte de uma audiência de um programa considerada “traço”, porém, útil para dar fôlego a um cochilo.
Quando meu pai chegava da feira, eu ia direto para cozinha, pegava um pano de prato com um desenho já desbotado e o jogava sobre o ombro; num prato, colocava o pastel tirado daquele saco junto com os guardanapos dados pela dona da barraca e uma faca de mesa serrilhada; voltava para a sala; na frente da televisão, sentava-me no tapete, abria o pano como quem fizesse um piquenique, cortava o pastel ao meio e comia a metade com mais recheio primeiro. Fazia questão de dar generosas mordidas para ouvir a massa se quebrando num crac crac musical, não deixando sobrar quaisquer migalhas que caísse no prato, pressionando-as contra meu dedo indicador engordurado tentando cola-las. Terminava rápido, talvez distraído pelo programa esportivo ou por vontade mesmo. Sabia que tinha espaço para mais um tranquilamente, porém, ficava ali sentado por um tempo, ainda digerindo e deixando aquilo me afetar de alguma maneira, satisfeito. Como almoçava mais tarde aos domingos, aquele pastel sustentava por boas horas. Depois do café da manha de adulto, o videogame se tornava a única preocupação até que algum dos meus amigos aparecesse chamando para jogar bola na quadra do prédio. Era um domingo: eram todos os domingos. E essas horas pareciam nunca passar numa ilusão da rotina. Eu parecia nunca passar.
Dias desses, ao ouvir de meu pai que iria para a feira, quando perguntado se eu queria algo, pensei um pouco e pedi um pastel de palmito. Ele foi até a mesma feira, na mesma barraca e o trouxe do mesmo jeito. Repeti os mesmos gestos que fazia quando mais novo, apenas não o cortei dessa vez, mas estavam lá: a pose de indiozinho, pano estendido, o prato e o guardanapo. Na primeira mordida, eu pensei, pensei mais do que nunca: Será que aquele óleo tinha sido reaproveitado de outras feiras? Quantas calorias tinham naquilo? Como aquela fritura me afetaria internamente? Será que o meu colesterol estava bem controlado ao ponto de eu poder me dar um luxo prazeroso como esse? Com as contas cada vez mais altas, será que o meu pequeno mimo não afetaria as contas da casa de alguma maneira? Olhei o videogame agora só usado para ver filmes ou acessar a internet. E olhei minhas mãos, os meus dedos já não infantis recolhendo migalhas no prato. E olhei meus pais bem ali na cozinha, pensei na vida lhes tomando naturalmente de mim, e eu sendo tomado pela vida dia após dia, domingo após domingo. Esse mesmo domingo virou um dia tão… Maldito! O dia maldito que precede o dia sinônimo de rotina adulta e nada mais; no amanhã eu acordaria com o mesmo gosto rançoso de semana passada na boca, embalado como presente por uma tarja preta para uma sociedade que espera da vida tudo ao mesmo tempo em que o nada vira um ponto de refúgio para a nossa solidão cada vez menos reflexiva e mais angustiada. Quando perdi isso? Quando passei por mim? Fechei os olhos e respirei fundo: A nostalgia invadiu meu paladar, ainda digerindo, fui afetado de alguma maneira. As horas passaram num tique taque nervoso, e eu não vi: Na ânsia de uma mordida, abocanhei o tempo… Só o tempo.