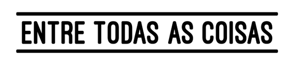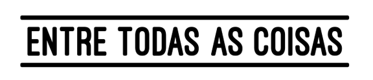Por favor, não me esqueça.
Eu sei que é egoísmo meu, mas não tá dando pra fingir que é nada. Eu sei que eu era meio minha e de mais ninguém. Meio assim, sozinha por natureza. Meio que não gostava de ser só metade com alguém do lado. Meio que eu joguei fora todas essas convicções malucas quando conheci um tal guri que me levou pra tomar um vinho de frente pra lagoa e me fez brincar de piquenique à meia noite. Meio que a gente começou alguma coisa com algum blá blá blá e acabou abraçado debaixo de um cobertor no apartamento número 77 de algum número esquecido da Vieira Souto. Meio que eu saí por aquela porta alguns anos depois e meio que me lembro de tudo como se fosse hoje.
Daí que a gente vê como o mundo é rápido e a gente só sente isso quando já passou do momento de cair a ficha. Ontem mesmo eu tava andando de bicicleta pela orla pra poder pegar o pôr-do-sol e parei no Arpoador pra poder ver o dia virar noite com calma. Acendi um cigarro e puta merda, por que você tinha que ter me esquecido? De todos os meus medos egoístas, o maior sempre foi ser passada à borracha como se tudo vindo de mim fosse marcado a lápis e pudesse ser facilmente apagado – pelo tempo ou por algum desses amores que a gente acha que são pra sempre. Eu não queria admitir, mas há sempre uma súplica em todos os meus finais de romance. Não precisa devolver os presentes, muito menos se apressar em tirar as coisas lá de casa. Não precisa falar bem de mim pros amigos – até porque eu confesso a minha parte megera na vida – e nem precisa fazer questão de me telefonar aos domingos pra ver se tá tudo bem. Ele só precisa me manter viva e aquecida na memória. Porque sem isso eu viro página virada. Viro uma história qualquer que alguém viveu num dia desses. Viro referência anotada em papel de pão.
Eu tenho horror a referências. Dia desses sentei num bar com umas amigas e uma delas se referia ao antigo namorado como “aquele que não conseguia me fazer gozar e sempre fingia um ataque cardíaco no meio da transa só pra não sair como o fracassado”. E imaginei como é que eu estaria sendo chamada agora ou num futuro próximo. “Aquela que”. Que não sabia andar de bicicleta. Que não fumava. Que detestava assistir ao pôr-do-sol no Arpoador. Nem meu nome teria mais serventia na sua memória? Ah, não, por favor. Não é raiva, nem mesquinharia. É só o meu direito de não ser esquecida. O meu direito e a minha esperança. Que por mais que tenha se acabado, que você me prolongue na imaginação. Tudo bem se não me tocar ou não esbarrar nunca mais comigo. Mas que não me descarte. Se sentir tão plástica assim me causa algumas náuseas e uns arrepios que não senti nem quando fiz as primeiras tatuagens. Mas é frustrante você saber que um dia as coisas se apagam. Que um dia o último a sair vai ter que apagar a luz. Só, por favor, não me deixa sozinha no quarto e fecha a porta. Nem apaga a luz, meu bem.
E deixando de lado um pouco a frustração… A verdade é que dói. Dói levar um pé na bunda, dói ter que devolver todas as coisas a contragosto, dói ter que explicar pros amigos que acabou e dói mais ainda ter que ir à praia sozinha. Dói o vazio do lado de fora – e você pode imaginar como deve doer o do lado de dentro. Dói me lembrar do “velho amigo” e pensar que talvez ele nem se lembre de mim. Dói e dói porque não é justo. Não é justo que só eu carregue as marcas e que chame de passado – mesmo que, só pra mim, esse tal passado esteja bem presente. Não é justo que tudo aquilo a que me refiro se apague da sua cabeça com a mesma facilidade que o meu cigarro se apagou enquanto a noite caía. Não é justo que eu não tenha emprestado as minhas canetinhas e que elas percam a cor mesmo assim. Não é justo que você cruze as pernas num beiral de janela qualquer e dê as mãos pra alguém que não seja eu. Assim. Tão egoísta. Tão de ninguém como eu sempre achei que eu era.