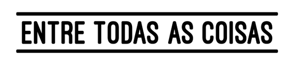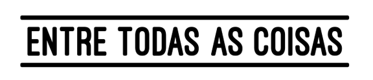Sempre tive uma curiosidade absurda pelo tempo e um atrito gigante com relógios. Quando mais novo, vivia aquela ansiedade (quase que diária) de que o tempo passasse logo e eu atingisse lá meus anos de maioridade. Quando a gente é criança, a gente pensa bastante sobre altura e sobre permissões. Ser adulto parece sempre deixar a infância para trás e ganhar credenciais e cartões de acesso. É na infância que a gente quer brincar de ser gente grande porque acha mais divertida a possibilidade de explorar o mundo do alto de pernas compridas.
E o passar do tempo tinha um gosto de conquistas para a gente. Com 12 anos, o primeiro título de “aborrecente” e o uso da caneta esferográfica nos trabalhos de escola. Era a imponência da juventude representada por um instrumento que não permitia mais falhas como os lápis permitiam (e as borrachas apagavam). Era a instrumentalização da condição de gente quase grande. Aos 15 anos, a troca do ensino fundamental pelo ensino médio e os primeiros porres da adolescência. Quando a gente descobre o doce sabor do álcool num vinho vagabundo e a forte dor de cabeça da primeira ressaca. É um passeio pela conquista da imprevisibilidade adolescente e pela rebeldia do contrassenso. Aos 18, finalmente, a maioridade e a dispensa voluntária de casa. A gente vive pra rua e para a vida universitária, como alguns. Outros já engatam o passaporte e a carteira de trabalho e caem no mercado profissional dos ternos e gravatas. E é aí que a gente percebe que o gosto do passar do tempo se tornou injusto.

Aquela necessidade desenfreada da criança em crescer e ver o relógio passando rápido se converte na agonia rotineira de quem precisa que as horas passem para acabar o expediente de trabalho e voltar para o aconchego da casa. As marcas na parede estacionaram em alguma altura boa o suficiente para comportar um corpo adulto e cheio de responsabilidades. Os desenhos na parede agora se tornaram vandalismo, caso tentemos reproduzi-los em algum outro lugar. Os papéis coloridos são faturas de cartões de crédito e contas de luz, água e internet que a gente precisa se virar para pagar. Morar longe de casa tem um gostinho de saudade que sobe na boca sempre que o telefone toca e são os pais com conselhos ultrapassados. E é quando você está numa dessas mudanças de emprego, se despedindo de pessoas e guardando porta-retratos é que cai a ficha: crescer dói.
A gente paga um preço por ter deixado o nosso lado pirralho para trás. Meio amargo, meio salgado. As notas variam entre valores altos e valores nostálgicos. A moeda de troca pela independência, seja ela voluntária ou empurrada, é descobrir que olhar o mundo do alto assusta. E que a queda pode ser brutal e pode machucar assim que a gente chegar no chão. A gente descobre que se acostumou a olhar pro alto e pra frente, mas perdeu o treino do que está por baixo. E não acha mais aquelas primeiras marcas na parede que falavam de infância. A gente descobre que a fixação em ser grande podia ter sido deixada de lado e a gente podia ter aproveitado um pouco mais quando os desenhos animados não falavam em despedidas e em decisões que teriam que mudar a nossa vida. No máximo, eu tinha que escolher entre um canal ou outro. Entre o Batman e o Super Homem. Entre caminhões ou carros velozes. No geral, crescer traz algumas boas recompensas que justificam as perdas e o coração apertado por ter que encarar o mundo aqui do alto. Ser pequeno tinha suas restrições, mas não doía. Crescer dói. E parece que cada centímetro a mais que o tempo empurra traz essa sensação de coração apertado. Porque pedir aconchego, quando se é grande, é considerado piegas. Porque pedir pra dormir na cama dos pais, quando se ocupa metade dela, é estranho. E mesmo com a certeza de que o caminho valeu a pena, eu fui dormir sozinho com o coração apertado e com a conclusão saudosista: crescer dói, sim. Mas a gente vai tratando os machucados e olhando sempre pro relógio, fingindo que é só de vez em quando que a gente espera que ele pare de avançar e dê meia volta.